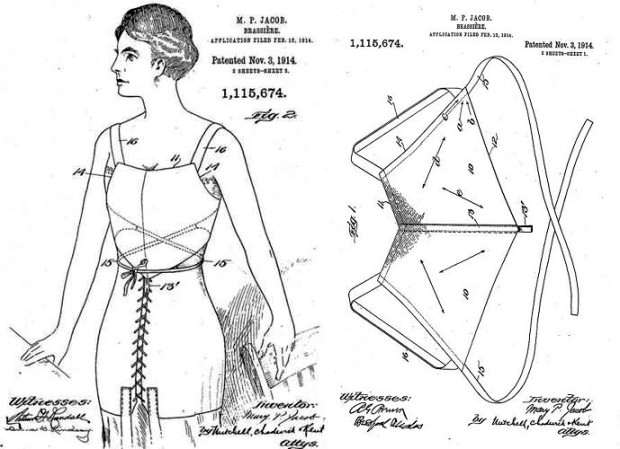Ao caminhar pela “rambla” (a costa) uruguaia em Montevidéu, banhada pelo Rio da Prata, um turista brasileiro poderia estranhar o grande número de pessoas consumindo cannabis ao ar livre, sem receios em relação ao policiamento ou às outras pessoas. Mas não é só na rambla que esse tipo de atividade pode ser vista: em qualquer ponto da cidade, é possível se deparar com uma pessoa abaixada, moendo a erva com as mãos ou enrolando-a em papel de arroz.
Desde junho de 2012, os usuários de maconha uruguaios têm mais um motivo para comemorar: foi apresentada uma proposta para uma “legalização controlada” da droga. A partir de então, discute-se uma forma de produzir, distribuir e disponibilizar a erva ao usuário de forma a combater a violência e o narcotráfico.
Hoje, o consumo da cannabis no Uruguai é descriminalizado, ou seja, a erva pode ser usada por qualquer um e em qualquer lugar, o que deixa os usuários mais à vontade para fumar em espaços públicos. Mas nem sempre foi assim. Kike Yuyo, proprietário da Yuyo Brothers, loja especializada em artigos canábicos, se recorda do tempo em que o uso ainda não era liberado. Segundo ele, antigamente a repressão era maior. “Tínhamos que nos esconder para fumar – não porque íamos apanhar, como acontece no Brasil -, pois os policiais queriam saber quem tinha vendido a erva, onde conseguimos aquilo. O que eles queriam, na verdade, era pressionar a base para chegar ao topo da cadeia”.
Em uma escura sala de reuniões de um albergue localizado em Ciudad Vieja (A Cidade Velha) de Montevidéu, estão sentadas duas figuras de extrema importância para o debate sobre a maconha. Com ar calmo e consciente, Laura Blanco e Juan Vaz, ativistas e fundadores da Associação de Estudos Canábicos do Uruguai (AECU), já acumulam anos de luta pela legalização e regulamentação da erva. Enrolando cigarros de tabaco continuamente, os dois falam sobre sua trajetória pró-legalização. Segundo a dupla, a Associação tem três objetivos principais: culturais, sociais e educativos.
No âmbito cultural, procuram continuar a desestigmatizar o usuário. No social, dão apoio legal aos autocultivadores que sofreram ou sofrem processos, além de informar os direitos de cada um como cidadão. Por último, no campo educativo, o grupo busca informar e difundir a cultura canábica.
Segundo Vaz, o autocultivo é uma ótima saída para que o usuário possa ter acesso a um produto de melhor qualidade. No entanto, a iniciativa ainda não foi legalizada e não há previsões para que seja. “É um grande passo, pois a erva que recebemos vem do Paraguai e é de muito má qualidade. Não sabemos se são misturadas com outras substâncias e não passa por um controle sanitário como outras mercadorias”.
Por outro lado, Vaz complementa dizendo que eles estão engajados na questão das terapias medicinais e, sobretudo, em tratar da investigação, que está muito mais adiantada em outros países do que aqui. Na América Latina, fizeram a maconha ser proibida e ela nunca foi tomada como um medicamento. Nas faculdades de medicina, não se aceita nenhuma característica boa da cannabis, se omite, não se estuda e, portanto, não se receita.
Uma das coisas que omitem tem a ver com a terapia substitutiva de cannabis para inibir o consumo de drogas mais pesadas, como o crack, e tem funcionado. “São coisas difíceis de propor socialmente enquanto a cannabis for proibida. Do contrário, estaríamos discutindo essas políticas”, diz Vaz.
Sobre o recente projeto de legalização uruguaio, Blanco afirma ser a maior preocupação da AECU. De acordo com a ativista, eles estão buscando uma maneira de como regularizar a maconha, e não mais se ou não regularizar. De acordo com os ativistas, o país deu um grande passo, já que será uma oportunidade para a guerra contra o narcotráfico será vencida. “ O governo decidiu tomar essa decisão não porque incentiva o uso da droga, mas para reduzir a violência e desvincular o usuário das bocas de outras drogas, como fez a Holanda há muitos anos”, complementa.
Segundo Kike Yuyo, hoje, o usuário encontra dificuldades em conseguir adquirir o produto nas “bocas de fumo” da capital. “A situação é difícil, pois precisamos ir à lugares que não são nosso mundo. O problema é que o usuário acaba indo para estes lugares comprar maconha e, muitas vezes, se envolve em confusões que não tem nada a ver com ele”.
Uma das preocupações – e principais motivações para a legalização – do governo é o fato de que o usuário, estando em uma boca e não encontrando disponibilidade de maconha, acaba adquirindo outra droga pelas mãos do traficante, como crack e cocaína. Com o projeto de lei, teoricamente, o usuário não enfrentará a escassez do produto, não sendo, assim, incentivado a adquirir outro produto como substituto (o chamado Efeito Gôndola).

Em locais como a Plaza Seregni, a droga é descriminalizada e naturalmente consumida.
Alguns usuários, como é o caso de Diego Ferreira, discordam. “Fumo [canabis] há sete anos e nunca tive interesse por outras drogas”. Em relação à venda de maconha por parte do governo, o jovem questiona se o fato complicará a vida do usuário, uma vez que esse terá direito a um número limitado (em torno de quarenta) de cigarros de maconha por mês.
Para a socióloga e professora universitária Mariana Pomies, o problema do narcotráfico não é uma preocupação geral da nação uruguaia, apenas de Mujica. “O presidente fala de muitas coisas de uma maneira pouco protocolar. Do ponto de vista econômico sim, é um problema, pois envolve outros países”.
De acordo com a pesquisadora, a violência em torno das drogas e as consequências do consumo de drogas mais pesadas é que ocupam a mente de parte da população, isso, pois o governo pretende ter controle sobre a droga e substituir o consumo do crack pelo da maconha nos níveis mais baixos. “Com isso se melhora as condições sanitárias dessa população e acabamos com a violência. O questionamento inicial do governo era: ‘como se combate a violência gerada pelo crack? Combatendo as drogas que são o caminho a isso’”.
Uns, como o governo, defendem a legalização por conta da violência; outros por acreditarem que essa é uma medida moderna para o país. No Uruguai, as pessoas não são mal vistas por consumirem maconha, mas os usuários de crack são associados a marginalidade. A maconha está nas universidades, em reuniões, festas de aniversário e a polícia não invade esses lugares em busca de pessoas consumindo.
Pomies se mostra cética em relação ao governo uruguaio, o qual julga ineficiente e burocrático, uma das razões pelas quais não se deve, segundo ela, atribuir a ele mais funções do que as atuais. “Vão executá-las de forma malfeita, gerando mais corrupção do que já existe. A ideia do governo produzir e distribuir maconha me parece nefasta; não vai funcionar”.
Nicolas Nuñez, deputado eleito pelo partido socialista Frente Ampla, chega à Casa del Pueblo (Casa do Povo), a sede do partido, acompanhado de seu irmão gêmeo e mais um amigo. Por conta de sua aparência jovial, é difícil acreditar que aquele é um personagem político de peso no cenário uruguaio. Em um mini-tour pela sede do partido, Nuñez aponta para um martelo que, junto a pedaços de vidro e pedra, se encontra em exposição nas escadarias do local. “Foi com esse martelo que a polícia destruiu a porta deste mesmo edifício durante a ditadura militar, na caça aos comunistas”. Para o deputado, que já organizou comícios e marchas a favor da legalização da droga, aquelas são águas passadas. O objetivo, no entanto, ainda é o mesmo: dar maior liberdade e autonomia à população.
Começamos a ser reconhecidos como uma organização política em 2005, quando o governo de frente ampla venceu as eleições e passou a ter maior receptividade no governo”. A partir de então, o partido passou a articular uma estratégia para tratar o tema da legalização. Em razão das marchas e passeatas, o partido ganhou e uniu forças a favor do assunto até alcançarem, em 2012, o lançamento de uma lei que visa a distribuição e produção de cannabis por parte do governo. A lei, no entanto, como ressalta Nuñez, não tem como objetivo liberar todas as drogas, mas sim regular o que ainda não está regulamentado.
O deputado argumenta que é necessário encontrar uma maneira de tratar o tema que seja totalmente adaptada à realidade uruguaia, ao invés de copiar a legislação de países europeus.
No entanto, o partido encontrou dificuldades em implantá-la por conta da falta de informação. “A informação não chega às pessoas, o que torna difícil explicar e convencer a legalização para uma pessoa desinformada”.
De acordo Laura Blanco e Juan Vaz, amigos pessoais e apoiadores do partido, o governo, apesar de aceitar a legalização, foi criticado por muitos dos usuários. Para eles, isso se deve à falta de informação de quem está articulando a lei agora, além do próprio presidente. “Ele [Mujica] é um senhor com quase 80 anos, floricultor, mas que nunca esteve vinculado a essas substâncias. Para ele, nós [usuários] somos uns pobrezinhos, doentes”.
O estudante Ignácio é membro da associação Prolegal, entidade à favor da legalização que tem como objetivo mudar a política de drogas. A associação trabalha, entre outras coisas, para tornar o autocultivo e os “clubes canábicos” legais, como alternativas ao monopólio governamental sobre a erva. “Os clubes são associações nas quais os membros, de forma rotativa, plantam maconha e, na época de colheita, a compartilham entre si. A proposta pode ser positiva para controlar o preço e o acesso à substância”.
Os argumentos da oposição, de acordo com o deputado, são baseados na lógica de “o poder é meu, faço o que quero com ele”. Para esses, a maconha é má e precisa ser proibida, pois pode fazer mal à saúde. “O único argumento que têm é de que a maconha é prejudicial à saúde. Para mim, é o mesmo que proibir o licor por seus malefícios”.
Entre os argumentos da oposição, também está o de que a legalização irá causar um aumento no número de consumidores da erva, o que Vaz discorda. Segundo o ativista, legalizar não vai aumentar a quantidade de pessoas fumando, mas sim, com mais segurança, com melhor qualidade e consciência.
Outro ponto a favor da legalização é o de que a maconha, por ser a droga mais vendida do mundo, ao ser retirada das mãos do traficante e colocada na do governo, irá causar um prejuízo enorme ao tráfico. Além disso, o lucro (que é alto) proveniente da venda passa a ser destinado ao governo, que pode utilizá-lo em diversas áreas como reabilitação, educação e combate ao tráfico.
No entanto, legalizar a erva pode se tornar um problema diplomático. Países como os EUA e a China são grandes opositores da legalização. Se eles decidissem fechar o mercado para o Uruguai como forma de retaliação, o país pagaria um preço alto pela política proposta.
Nicolas Nuñez concorda com a posição da ativista. Para ele, precisa haver muita coragem para que o plano seja aprovado sem dificultar os convênios internacionais.
Apesar de controverso, o tema parece estar caminhando lentamente e de maneira consciente rumo à elaboração de uma das mais complexas, completas e conscientes legislações em todo o mundo. No entanto, sua eficácia, seja em termos de combate ao narcotráfico ou conscientização sobre o tema, só poderá ser comprovada a longo prazo.
Uma coisa é certa: abrir espaço para debates deste tipo faz com que o povo se envolva com a política e consiga, através de seus políticos, se sentir efetivamente representado em questões que, como a legalização, envolvem a sociedade e seus interesses particulares como um todo.